No dia 11 de novembro, vimos uma imagem inusitada do plenário do STF (Supremo Tribunal Federal): o formato tradicional das três mesas em “u” deu lugar a um grande quadrado. Em face dos magistrados brasileiros, a quarta mesa acolhia os juízes da CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos).
O presidente do STF, Ministro Joaquim Barbosa, definiu o encontro como um “marco histórico”, e declarou: “Não estamos aqui recepcionando uma Corte estrangeira, mas um órgão que, de fato, integra o conjunto de instituições acreditadas pelo Brasil para a atuação na defesa e no fomento dos direitos humanos”.
Barbosa tem razão. Criado nos anos 1960, no âmbito da OEA (Organização dos Estados Americanos), o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos dotou-se de uma comissão (órgão político) e de uma corte (órgão jurisdicional) para controlar o cumprimento pelos Estados da Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Em 1992, o Brasil ratificou a Convenção, e em 1998 aceitou sujeitar-se à jurisdição da Corte.
Não obstante, as palavras do presidente do STF são surpreendentes. Primeiramente, porque o Brasil é um perfeito cosmopolita no que concerne as suas relações comerciais e à atração de investimentos estrangeiros, mas um notório provinciano quando o assunto é o direito internacional dos direitos humanos. Embora muito citadas, as convenções internacionais são pouco aplicadas por nossos tribunais. O mesmo vale para a jurisprudência de tribunais internacionais, como a CIDH, em geral referida à la carte, como suposta demonstração de erudição dos juízes, e não como verdadeiro reconhecimento de nossa submissão à ordem jurídica regional.
Tal fenômeno excede largamente os tribunais. A despeito da retórica de valorização do sistema regional nos discursos oficiais brasileiros, ainda existe uma imensa desconfiança por parte de numerosas autoridades brasileiras, não menor do que o franco desprezo, em relação à Comissão e à Corte interamericanas.
Foi feroz a reação da presidente da República, Dilma Roussef, contra a Comissão Interamericana quando esta recomendou ao Brasil uma série de medidas concernentes à usina de Belo Monte. Sob o slogan do “fortalecimento” do sistema, uma campanha de ataque à Comissão teve o beneplácito, senão o protagonismo, do Estado brasileiro. O ex-Ministro Vanucchi, que assumirá em janeiro uma vaga na Comissão, declarou recentemente que a Comissão “está doente” e que ele nela agirá “como um médico”.
Soma-se a esta dificuldade de aceitar críticas, ainda que construtivas e baseadas num tratado internacional, a proverbial ignorância dos brasileiros, inclusive de juristas, sobre o direito que se produz na esfera regional.
Poucos sabem que o Brasil foi condenado quatro vezes pela CIDH, nos casos relativos à morte por maus-tratos do paciente com distúrbio mental Daniel Ximenes Lopes; ao grampo ilegal para espionagem do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra); ao assassinato do trabalhador rural Sétimo Garibaldi; e finalmente no chamado Caso Araguaia, quando foi condenado, entre outros itens, a processar criminalmente e a julgar os autores das graves violações de direitos humanos cometidas por agentes públicos durante a ditadura militar (1964-1985).
No Caso Araguaia, o grande obstáculo ao cumprimento da sentença do hóspede é justamente o anfitrião. Dois anos após a decisão, ainda prevalece o entendimento do STF que, na polêmica ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) n. 153, contrariou frontalmente as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil, ao manter uma interpretação da Lei de Anistia de 1979 que beneficia os perpetradores de crimes contra a humanidade.
Ora, segundo a decisão da CIDH, “são inadmissíveis as disposições de anistias, as disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade, que pretendam impedir a investigação e punição dos responsáveis por graves violações dos direitos humanos, como tortura, as execuções sumárias, extrajudiciárias ou arbitrárias e os desaparecimentos forçados”.
A boa nova, porém, é o contraste da opinião de Joaquim Barbosa com a de outros Ministros do STF. Por exemplo, o hoje aposentado Cezar Peluso afirmou taxativamente, quando foi Presidente da casa, em 2010, que a CIDH “não revoga, não anula, não caça a decisão do Supremo” em sentido contrário.
Na mesma época, o ministro Marco Aurélio Mello afirmou que o direito interno deve se sobrepor ao direito internacional. Não teve vergonha de adicionar que a decisão da CIDH tem eficácia apenas política e que “não tem concretude como título judicial. Na prática, o efeito será nenhum, é apenas uma sinalização”. No mesmo sentido, o ex-Ministro do STF, Nelson Jobim, disse que as decisões da CIDH são meramente políticas e que não produzem efeitos jurídicos no Brasil.
Peluso deu-se ao luxo de tranquilizar os torturadores, prevenindo que o prejudicado por eventuais efeitos da sentença da CIDH poderia “entrar com Habeas corpus e o Supremo vai conceder na hora”. Jobim sentenciou: “O assunto não pode voltar ao Supremo, pois a Corte está sujeita a suas próprias decisões. As decisões de constitucionalidade têm efeito contra todos, inclusive eles [os ministros]”.
Essa postura hostil demonstra o provincianismo jurídico e o patriotismo seletivo de figuras importantes da República quando o assunto é a efetividade dos direitos humanos, apesar da submissão voluntária do Brasil ao sistema interamericano.
Por tudo isto, a realização de uma sessão aberta de julgamento da CIDH em território brasileiro não pode se resumir apenas a mero diálogo cordial entre autoridades, animada por protocolos diplomáticos. A sessão da CIDH em Brasília precisa sensibilizar o governo brasileiro e o STF para que levem a sério o sistema interamericano de direitos humanos, a fim de que haja um diálogo institucional verdadeiro e proveitoso entre as jurisdições, situação cada vez mais necessária em um mundo que precisa aprender a globalizar, além da economia e das desigualdades, também a justiça.
Justiça, no caso Araguaia e em tantos outros, significa o respeito às recomendações e decisões emitidas pelos organismos internacionais que zelam pelos direitos humanos. A soberania nacional, tão flexível quando se trata de negócios, é reafirmada – e não contrariada – quando se coloca os direitos humanos em primeiro lugar.
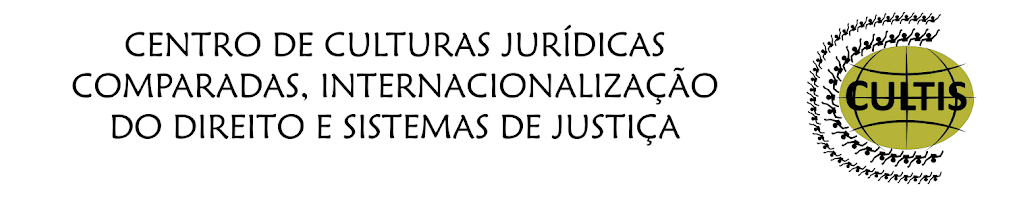

Nenhum comentário:
Postar um comentário