Por Jânia Maria Lopes Saldanha
No dia 30 de dezembro de 2014, a Emenda Constitucional nº 45, completou 10 anos. Entre inúmeras mudanças trazidas ao nosso sistema constitucional, esse texto normativo inseriu o Brasil no grupo de países que reconhece e, por isso, submete-se, à jurisdição do TPI – Tribunal Penal Internacional, segundo a redação dada ao art. 5º, § 4º, da Constituição Federal.
O TPI foi criado pelo Tratado de Roma[1] datado de 17 de julho de 1998 e começou a funcionar na Haia no ano de 2002. Como toda mudança significativa, sobretudo no plano das relações internacionais que envolvem os Estados, a criação desse tribunal não se livrou de intensos debates e tensões, sobretudo porque ancorada na necessidade de viabilizar-se melhor aplicação do direito internacional humanitário e para reduzir o problema da impunidade dos Estados.
De fato, como brevemente já tive oportunidade de tratar neste espaço, um dos mais contundentes problemas das relações globais é o da desumanização, por um lado e, o da (ir)responsabilidade dos atores que violam direitos humanos, por outro.
Com efeito, o Preâmbulo do Tratado de Roma diz que os crimes mais graves que atingem o conjunto da Comunidade internacional não podem restar impunes e que, para debelar tais impunidades, faz-se necessária não só a adoção de medidas estatais internas quanto o reforço da cooperação internacional. O artigo 5º estabelece um conjunto de crimes que seus redatores classificaram como mais graves como: a) genocídio; b) crimes contra a humanidade; c) crimes de guerra; d) crimes de agressão.
É possível interpretar que o texto do Tratado expressa a vontade de que sejam encontrados caminhos possíveis para aproximar os interesses da globalização em sentido amplo e a humanização, porquanto também é possível ler em seu Preâmbulo que os Países, ao ratificarem tal texto internacional, reconhecem expressamente que as principais vítimas das atrocidades “inimagináveis” praticadas contra homens, mulheres e crianças durante o Século XX, em verdade, violaram a consciência da humanidade.
Entretanto, é necessário destacar que os mais de cem Estados que ratificaram o Tratado de Roma e que reconheceram a jurisdição do TPI não o fizerem renunciando ao modelo tradicional da soberania que lhes dota do poder de decidir internamente como defender a sua segurança, sobretudo usando da força.
Como refere Mireille Delmas-Marty[2], tal questão ainda demonstra o lugar privilegiado da política frente ao direito. Essa é uma das razões que justifica a aplicação do problemático princípio da complementaridade ou da subsidiariedade da jurisdição do TPI relativamente às jurisdições penais internas. Parece ser justamente esse limite que, entre outros, esse espaço não comporta abordar nesse momento, tem impedido a efetiva responsabilidade dos Estados que violam persistentemente os direitos humanos.
Veja-se que a ausência de definição do que seja o “crime de agressão”, ao contrário da presença de definição dos crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, embora quanto a esses sejam conhecidos os intensos debates acerca de sua compreensão e aplicação concreta, demonstra essas derivas e ambiguidades da globalização e confirma a dificuldade de atuação da justiça humana. Sim, porque a ausência dessa definição, embora o direito internacional apenas autorize o uso da força em nome da legítima defesa ou da ingerência humanitária ambas, na prática, não isentas de toda crítica e reflexão, mantém os Estados em uma situação de permanente irresponsabilidade seja por ação ou omissão no que diz respeito à existência de graves crimes contra os direitos humanos.
Os conflitos armados ainda em pleno exercício neste início de ano na Síria, na República Centro Africana, no Paquistão, em Israel e Palestina, entre outros, são exemplos não desprezíveis dessa dura e desafiadora realidade e que impõem, política e juridicamente, severos desafios à aplicação da justiça penal internacional. Criminalizar a agressão “importaria uma verdadeira ruptura que suporia o reconhecimento de uma comunidade mundial política”, nas palavras de Delmas-Marty.[3]
Não seria mesmo utópico sujeitar os responsáveis pelas guerras sangrentas, que acompanham a história da humanidade, ao direito? Essa que é uma “luta” de outra natureza pode mesmo estar fadada ao insucesso.
Algumas sábias e poderosas pistas podem ser encontradas em Nietzsche e Freud cujas obras, embora em campos de análise distintos, permitem que se identifique uma comunidade de intuições voltadas não só a compreender o mundo e o homem. Em sua exuberante obra “Mal-estar na civilização” Freud[4], mencionando, as atrocidades cometidas durante as migrações raciais ou a invasão dos hunos, ou pelos povos conhecidos como mongóis sob a chefia de Gengis Khan e Tamerlão, ou na captura de Jerusalém pelos cruzados ou os profundos horrores da Primeira Guerra Mundial, destaca que os homens não são mesmo figuras gentis e sim são criaturas cujos dotes instintivos apontam para uma poderosa dose de agressividade.
É por isso que, segundo Freud, a civilização tem de utilizar esforços supremos a fim de estabelecer limites para os instintos agressivos do homem e manter suas manifestações sob controle. Essa análise sombria, de fato, nos conduz a uma atitude pessimista, pois o conjunto de episódios atuais de violência praticada pelos Estados, por grupos armados, entre outros, demonstra que a despeito de todos os esforços para limitar os comportamentos humanos agressivos por meio do direito, a mão desse não tem alcançado os principais responsáveis.
Nesse sentido, resta que o próprio direito contribui para a persistência de tais dificuldades, seja porque, como é sabido, suas tradicionais estruturas mantêm-se fortemente ancoradas na matriz estatalista, seja porque os marcos normativos internacionais ainda contêm uma boa dose de ambiguidade no que diz respeito à clareza de sua aplicação, quanto à sua própria formulação e, quanto à competência de atuação das instituições internacionais.[5]
A par de repetir a adaptação ao cinema de modo sofrível, a saga bíblica de Moisés na condução do povo hebreu à terra de Canaã, Ridley Scott, diretor do filme que recentemente chegou às telas dos cinemas, “Exodus – Gods and Kings”, talvez teve por objetivo mais elevado chamar a atenção do público para a atualidade daquele episódio bíblico, tal como expressa a brutalidade da guerra que envolve Israel e Palestina, cujas principais vítimas são crianças, mulheres e velhos a demonstrar o embate entre a força da política e a força do direito, sem esquecer o profundo componente de infantilidade psicológica, reproduzido pelo delírio das massas, que os fundamentalismos religiosos de qualquer espécie provocam, como muito bem destacou Freud.[6]
Malgrado as dificuldades antropológicas e estruturais para debelar a barbárie humana por meio do direito, devemos crer em seu poder transformador. As conquistas representadas pela inserção do dever de respeito aos direitos humanos presentes nas cartas constitucionais e convencionais são irrenunciáveis e o maior exemplo desses avanços.
Mais uma vez a competência e capacidade de atuação do TPI é desafiada. Entre inúmeros motivos conhecidos e que não cabe aqui reproduzir, acerca da incapacidade dos líderes israelenses e palestinos em pôr fim pacífico ao seu conflito, responsável pelo extermínio de inocentes ao longo de décadas, é que no dia 2 de janeiro passado a Autoridade Palestina apresentou formalmente a ONU declaração de que pretende aderir ao Tratado de Roma e, assim, reconhecer a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O propósito, sabidamente, é complexo. Mas a ação mostra que os palestinos a par de submeterem-se às regras do Tratado de Roma e à jurisdição daquele tribunal, o que visam é uma possível responsabilização jurídica de Israel.
Esse é, de fato, um desafio para a ONU e para o TPI. Reconhecerá a ONU o “Estado” Palestino? Mas tendo já a Palestina assento na ONU, essa poderá ser uma condição suficiente para que sua pretensão de adesão ao Tratado de Roma seja aceita? E na hipótese de sua demanda chegar ao TPI, terá ele competência e legitimidade para processar eventual demanda contra Israel, na medida em que esse Estado não ratificou o Tratado de Roma? Mas se a jurisdição do TPI for afirmada, como determinar onde começa e onde termina sua competência territorial?
Se as respostas a essas perguntas são incertas do ponto de vista do direito, não se pode desconsiderar que, do ponto de vista da imaginação utópica, é preciso ousar, dando oportunidade ao “ainda não”, rompendo com as aquisições do passado, para apostar em um futuro melhor, mesmo que improvável.
Esse é o horizonte que se busca desenhar ante a emergência de reconfiguração do papel do sistema de justiça, sobretudo dos tribunais internacionais quando se está a tratar de solução dos conflitos produzidos pela globalização. A resposta poderá estar na busca de objetivos humanos comuns.
Por essa via, pode-se reconhecer as ambiguidades e os desafios impostos à justiça penal internacional, o que não deve reduzir a nossa resistência à violência em nome da civilização humana, tampouco desconsiderar o papel que o direito deve ter para reduzir as ambivalências – e as crueldades – da globalização.
Jânia Maria Lopes Saldanha é Doutora em Direito. Realiza estudos de pós-doutorado junto ao IHEJ – Institut des Hautes Études sur la Justice quanto também junto à Université Sorbonne Paris II – Panthéon-Assas. Bolsista CAPES Proc-Bex 2417146. Professora Associada do PPG em Direito da UFSM. Advogada.
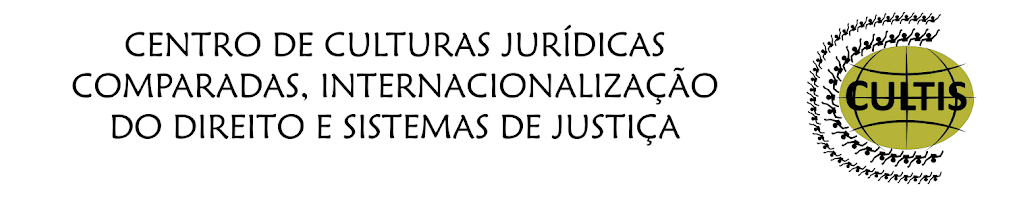
Nenhum comentário:
Postar um comentário