Por Jânia Lopes Saldanha
“Condenado à morte! Há cinco semanas que vivo absorvido por este pensamento, sempre só com ele, sempre gelado pela sua presença, sempre curvado debaixo do seu peso! Outrora – porque mais me parece que já lá vão anos, não apenas algumas semanas – eu era um homem como os outros homens. Cada dia, cada hora, cada minuto tinha a sua ideia própria. O meu espírito, jovem e rico, estava cheio de fantasias. E divertia-se a desenrolar-, umas após outras, sem ordem e sem fim, bordando de inesgotáveis arabescos este rude e frágil tecido da vida. Eram raparigas, esplêndidas vestes de bispo, batalhas vencidas, teatros cheios de barulho e de luz, e depois ainda raparigas e discretos passeios à noite sob as largas ramagens dos castanheiros. Era sempre festa na minha imaginação. Eu podia pensar no que queria, eu era livre.
Agora sou cativo. O meu corpo está algemado numa cela, o meu espírito está preso numa ideia. Uma horrível, uma sangrenta, uma implacável ideia! Eu só tenho um único pensamento, uma única convicção, uma única certeza: condenado à morte! O que quer que faça, ele está sempre lá, esse pensamento infernal, como um espectro de chumbo a meu lado, só e ciumento, rechaçando qualquer distração, face a face comigo, com este miserável que eu sou, e abanando-me com ambas as mãos de gelo quando tento voltar à cabeça ou fechar os olhos. Ele desliza para dentro de todas as formas que o meu espírito procura a fugir-lhe, mistura-se como um refrão horrível a todas as palavras que me dirigem, cola-se comigo às hediondas grades da cela, importuna-me acordado, espia o meu sono convulsivo, e reaparece nos meus sonhos sob a forma de um cutelo. Acabo de despertar em sobressalto, perseguido por ele, e vou dizendo para mim mesmo: “Ah! era apenas um sonho!” Ai de mim! antes mesmo que os meus pesados olhos tenham tido tempo de se entreabrir bastante para ver esse fatal pensamento escrito na horrível realidade que me rodeia, na laje úmida e suada da minha célula, nos pálidos raios da minha lanterna, no tecido grosseiro do meu vestuário, na sombria figura do soldado de guarda cuja cartucheira reluz através das grades da cela, parece-me que já uma voz está a murmurar-me ao ouvido: – Condenado à morte!” [1]
Atual? Parece que sim após o cumprimento da pena de morte imposta ao brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira[2] e mais seis pessoas pela justiça do Estado da Indonésia ocorrido no dia 17 de janeiro de 2015 e, no domingo passado, pela pena de morte executada pelo “estado islâmico” contra o jornalista japonês Kenji Goto[3]. Em qualquer caso, seja a pena praticada por um Estado constituído ou por um grupo armado e ilegítimo, no caso do último, o que se testemunha é a prática de um ato que tem sido repudiado por grande parte da comunidade internacional.
De fato, os movimentos contra pena de morte não são expressão do tempo presente. Beccaria, em 1764 já defendia sua abolição. Na passagem citada – que nos angustia profundamente – e perdoem-me os leitores se me alonguei, é Victor Hugo quem fala na obra “O último dia de um condenado” publicado no ano de 1829. Ele que era contra a pena de morte, eleva a palavra do condenado para dizer que tal pena constitui o apagamento físico e moral do sujeito que, com o espírito agonizante diz: “Talvez eles nunca tenham refletido, os desgraçados, nessa lenta sucessão de torturas que encerra a fórmula expeditiva de uma sentença de morte. Ter-se-ão ao menos alguma vez detido sobre esta idéia pungente de que no homem que eliminam há uma inteligência, uma inteligência que estava a contar com a vida, uma alma que não se dispôs para a morte?”
Como então ignorar que além da perda da possibilidade de todas as possibilidades, que é viver, o que a pena de morte impõe, antes, é o apagamento moral. Teríamos como negar que tal apagamento é também uma pena? Curioso é que se a pena de morte ainda é admitida por muitos Estados, os tratamentos cruéis e degradantes fazem parte do conjunto de ações absolutamente interditadas. Quem irá negar que a longa espera no corredor da morte é um sádico tratamento que viola a dignidade humana, aliás, como já decidiu a Corte Europeia de Direitos Humanos?
Sem desconhecer a polêmica, mais uma vez renovada, com a morte dos condenados pelo Estado da Indonésia e a de Kenji Goto, vale a pena pensar, sobre os mitos e verdades que circundam a pena de morte, sobretudo quando decretada pelo Estado. A propósito disso, a Anistia internacional ao tomar como referência pesquisas realizadas, demonstra que a pena de morte não dissuade a prática de crimes. O que ela faz, em verdade, é reforçar o uso da força pelo Estado e perpetuar os ciclos de violência.
Quando relacionada às drogas, no ano de 2008, o Diretor Executivo das Nações Unidas para o combate às Drogas e ao Crime defendeu ser necessário eliminá-la para tal crime, dizendo que “Apesar das drogas matarem, não acredito que seja necessário matar por causa das drogas”.[4]
É sabido que a Indonésia ratificou o Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU.[5] O artigo 6º, § 2º desse texto internacional diz que “Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade coma legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em conflito com as disposições do presente Pacto, nem com a Convenção sobre a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Poder-se-á aplicar essa pena em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente.”
Os atos relacionados com as drogas – como o tráfico e o consumo- poderiam ser considerados graves? A Anistia Internacional diz que a aplicação da pena de morte para esses crimes é uma violação à lei internacional que a proíbe. De fato, a ONU posiciona-se contrária a essa medida extrema e medieval. O Relator Especial da ONU para Execuções Extrajudiciais, no ano de 2007, manifestou-se contrariamente a essas práticas da Indonésia quando afirmou perante o Tribunal Constitucional desse País que “a morte não se constitui como uma resposta apropriada para o crime de tráfico de droga.”.
No caso ocorrido na Indonésia, um dos argumentos é a defesa da soberania desse Estado em determinar como sancionar os delitos praticados em seu território. Ora, mais uma vez vale lembrar sobre o esmaecimento do modelo de Estado westfaliano e sobre a extrema atualidade do pensamento de Ulrich Beck, a quem aqui se presta homenagem póstuma, acerca do necessário fim do paradigma do “nacionalismo metodológico” em um mundo que às duras penas tem globalizado alguns princípios protetivos dos direitos humanos que ultrapassam as diferenças culturais, embora elas devam ser respeitadas.
Imagino que muitos leitores poderão pensar que seguramente há muito desacordo sobre essa matéria. Afinal, do conjunto de Estados existentes, uma geometria mais ou menos variável, indica que 58 [6] deles não são abolicionistas da pena de morte em pleno Século XXI. O que justifica essa constância – e tolerância – é que não se pode esquecer – para tentar mudar – que um dos ramos do direito mais atrelado à soberania estatal é o direito penal. O Brasil é abolicionista da pena de morte apenas para os crimes comuns. O repúdio veemente e as ações concretas tomadas pelo governo brasileiro junto ao governo da Indonésia para obter clemência a Marco indicam que não só na esfera governamental, mas na sociedade como um todo, a abolição total da pena de morte deve ser seriamente pensada.
Essa necessária reflexão está conectada com o fenômeno da profunda transformação e reconfiguração a que têm sido submetidas inúmeras disciplinas jurídicas. Aliás, se compreendermos o direito a partir de sua totalidade e complexidade, mais apropriado é dizer que ele sofre, por inteiro, o impacto das mudanças que o mundo vive. Mesmo que essa reflexão não carregue nada de novo, não custa insistir que o direito penal não está desconectado desse todo e que é iluminado pela teoria jurídica, pela teoria constitucional e pelos direitos humanos. Se Vitor Hugo tivesse escrito a obra que serve de inspiração a esse ensaio no final do Século XX, seguramente não teria experimentado a solidão que o Século XIX lhe impôs.
É sabido que os principais textos de direitos humanos excepcionam o direito à vida permitindo ainda a pena de morte. Mas é justamente pela via dos direitos humanos que juízes de várias cartografias têm desenvolvido um frutuoso “diálogo” sobre essa pena. A internacionalização do direito traz como marca essencial essa rica possibilidade de trocas jurisprudenciais voltada à evolução do direito.
Esses diálogos nasceram no âmbito de pedidos de extradição, de questionamento sobre os direitos processuais dos presos condenados à morte. Tem-se como exemplo a adoção pelas justiças do Canadá e da África do Sul da decisão proferida no caso Soering pela Corte Europeia de Direitos Humanos. A jurisprudência desse caso indica que essa Corte impôs aos Estados da Europa verificar se a legislação do Estado requerente de um pedido de extradição é compatível com a Convenção Europeia de Direitos Humanos.
Mas a “arte desse diálogo” precisa ser aprimorada. São conhecidas as resistências dos juízes americanos e chineses nessa matéria. Com efeito, se o diálogo provocou inúmeras mudanças positivas de resistência à pena de morte e, por isso, deve ser mantido e valorizado, não é de fato, a única saída para essa tão delicada quanto urgente questão. É evidente, do ponto de vista da teoria do direito e da teoria processual que o fim da pena de morte ou a sua não aplicação não pode ficar sujeito à boa vontade dos juízes.
Como refere Mireille Delmas-Marty[7] é preciso mais do que isso. Os cruzamentos normativos e jurisprudenciais devem ser organizados para estabelecer-se uma coerência comum. Em primeiro lugar, segundo a autora, deve existir uma reciprocidade e simetria entre conjuntos normativos diferentes, como por exemplo entre os textos constitutivos da União Europeia e a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Em segundo lugar, no diálogo entre os juízes deve estar pressuposto que eles gozem do status mínimo de independência, imparcialidade e que conheçam minimamente a jurisprudência estrangeira. Mas para que o diálogo não seja disperso e não acabe por gerar mais do que evitar conflitos interpretativos na matéria, a adoção de um método é não só útil, quanto necessário. Finalmente, as técnicas interpretativas de aplicação do jus cogens e do costume internacional são dois caminhos para chegar-se a uma coerência de conjunto quanto à aplicação da pena de morte enquanto ela não for abolida pelos Estados onde está prevista.
O exercício democrático das tecnologias de informação e comunicação pelas redes sociais, como tem ocorrido, pode constituir-se em poderoso espaço de conscientização e de pressão para que a pena de morte seja extinta nos Países onde ainda ela faz parte da cultura jurídica e decorre de uma visão ultrapassada de soberania. Tanto os juristas quanto os etnólogos bem sabem não ser a mudança excluída pela tradição. Ela não possui “uma etiqueta inflexível, tampouco um protocolo imutável”[8]. É por isso que a pós-modernidade pode ser pensada como o “além” da modernidade. Entretanto, esse “além”, que é insistentemente olhado como uma condição para questionar – quiçá transformar – a tradição, somente se entendido em sua energia “inquieta e revisionária”, como refere Homi Bhabba[9], é que será a condição de possibilidade para o “pós” ser realmente transformador do presente para um “lugar expandido e ex-cêntrico de experiência e aquisição do poder”.
Todo grupamento humano constrói sua tradição num caminho que inicia no presente e dirige-se ao passado. Assim, a tradição opera uma retroprojeção e institui uma filiação invertida: “longe dos pais engendrarem os filhos, os pais nascem dos filhos”[10]. Não é, enfim, o passado que produz o presente mas é este que o produz: “A tradição é um processo de reconhecimento de paternidade.” É uma boa ideia orientar o debate sobre a pena de morte tendo esse precioso sentimento de que Beccaria e Victor Hugo podem ser nossos filhos.
Jânia Lopes Saldanha é Doutora em Direito. Realiza estudos de pós-doutorado junto ao IHEJ – Institut des Hautes Études sur la Justice quanto também junto à Université Sorbonne Paris II – Panthéon-Assas. Bolsista CAPES Proc-Bex 2417146. Professora Associada do PPG em Direito da UFSM. Advogada.
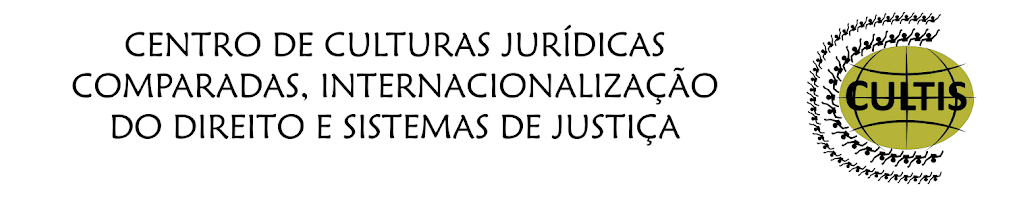
Nenhum comentário:
Postar um comentário